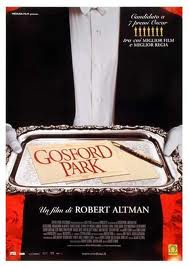segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011
BARALHAR E VOLTAR A DAR
 |
| Woody Allen e Anthony Hopkins |
Se fosse um primeiro filme, diríamos, talvez, que se
tratava dum divertimento, um tanto desencantado, cheio de um humor muito particular
sobre um certo meio social muito nova-iorquino, embora o set possa ser inglês
ou espanhol. Mas tendo presente a carreira deste cineasta, a sensação que nos
assalta é que ele se repete duma obra para outra, aplicando uma receita
agradável e que funciona sempre bem, graças a um sábio doseamento dos
ingredientes, mas não mais do que isso. Há uma preguiça evidente em tentar
qualquer coisa de novo. É como se Picasso nunca tivesse saído do seu período
azul só porque os seus quadros se vendiam bem.
Em "Vais conhecer o homem dos teus sonhos", Woody entrega-se mais
uma vez a seguir as "carambolas" dum grupo de personagens e a
escrever para cada situação diálogos que pretendem fazer jus a um certo tipo de
humor. Mas o espaço que no enredo ocupam as personagens extravagantes ( como a
velha senhora que acredita ser uma reencarnação de Joana D'Arc ou do seu amigo
livreiro que precisa da autorização duma morta para as segundas núpcias) não é
um bom indício sobre o estado de saúde desse famigerado humor judeu e
nova-iorquino.
domingo, 27 de fevereiro de 2011
O COSMOS QUE NOS CONTEMPLA
“Porque
a reprodução e a sobrevivência individuais estão sujeitas à repetição do mesmo
(o processo cíclico da natureza), a vida é o reino da necessidade. Pela mesma razão, a vida impede
qualquer diferenciação que vá além do exercício duma função vital ou
generativa. Tanto quanto governa aquilo que fornece, a vida pode ser a fonte
duma profusa multiplicidade, mas não poderia tolerar que
indivíduos dela emanados expressassem a sua singularidade e cujo destino fosse
a exibição da sua qualidade de serem únicos e o reconhecimento dela pelos
outros. Por outras palavras, a vida multiplica-se, mas de modo nenhum favorece
aquilo a que Arendt chama de pluralidade, i.e., a condição que consiste em cada
indivíduo ser ao mesmo tempo similar aos outros e diferente deles e único.”
“The Thracian Maid and the Professional Thinker”
(Jacques Taminiaux)
O estado natural não
nos permitiria nenhum progresso para além do observado nas outras espécies, se
não tivéssemos criado uma espécie de santuário em que as leis da natureza
fossem superadas na vida simbólica que é a da comunidade dos vivos e dos
mortos.
Arendt pensa que a polis
é essa criação, onde o humano transcende a sua condição efémera e em que a
palavra e a acção (lexis e praxis)
constroem um mundo durável, senão eterno, pois tal é a necessidade do espírito
que contempla o Cosmos.
Um programa que passa
no Canal Discovery, “Life after People” mostra-nos como o nosso mundo simbólico
foi realmente “tolerado” pela natureza, embora essa tolerância possa ter um fim
imprevisível. De qualquer modo, a nossa existência não pode ser um absurdo, o
que nos leva a interrogá-la para lá de qualquer perspectiva darwiniana.
sábado, 26 de fevereiro de 2011
O STAKHANOVISMO AMOROSO
 |
| Alexei Stakhanov (à direita) na mina com um companheiro |
“Mas
se admitirmos que as paixões dos dois sexos são igualmente fortes, por que é que
um homem nunca recusa satisfazer uma mulher que o ama e lhe pede para ser amável?
Não podemos aceitar o argumento fundado no medo dos resultados, porquanto esta
é uma consideração particular e não geral. A nossa conclusão, pois, será a de
que a razão está no facto do homem pensar mais no prazer que dá do que naquele
que recebe e, portanto, o seu desejo é o de provocar a felicidade do outro.
Sabemos, também, como regra geral, que as mulheres, tendo gozado, duplicam o
seu amor e afeição. Por outro lado, as mulheres pensam mais no prazer que
recebem do que naquele que dão e, logo, adiam o gozo tanto quanto possível, uma
vez que temem, ao oferecer-se, perder o seu principal bem – o seu próprio
prazer. Este sentimento é peculiar ao sexo, e é a única causa da coqueteria,
perdoável numa mulher e detestável num homem.”
“Memórias de Casanova”
(Vol.3)
Nada parece ser mais contra
a corrente dos preconceitos em voga no nosso tempo. E, no entanto, as palavras
pertencem a um dos maiores sedutores dos fastos amorosos e, por isso, poderia pensar-se que o autor sabia do que falava. A não ser que a sua
“profissão” exigisse uma determinada ideia do feminino, a mais produtiva em
termos de “conquistas”, o que é perfeitamente compatível com a ignorância do
sexo (feminino). E talvez estivesse nessa falsa presunção sobre o desejo do
outro o segredo dos sucessos de Casanova.
O desejo masculino,
na nossa espécie, não é especialmente atractivo e não poderia dar conta da
sedução. Por outro lado, a veleidade de conhecer o desejo
feminino pode ser patética. Fellini deu-nos um Casanova stakhanovista, um
verdadeiro operário do sexo, o que corresponderia ao ideal de servir da
doutrina atrás expressa.
Estará neste lado infantil de Casanova a chave do
seu “catálogo”?
sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011
OS DE CIMA E OS DE BAIXO
Em “Gosford Park”
(2001), de Robert Altman, o criado do produtor de cinema é, de facto, um actor,
ou se quisermos, um espião por conta própria. Entre o grupo de cima (upstairs)
e o de baixo (downstairs), ele desloca-se como uma “sonda” americana.
Numa primeira fase,
parece obedecer a todas as convenções e ocupar o “seu lugar” entre o pessoal
doméstico, com as não menos convencionais surtidas nocturnas ao quarto de “her
ladyship”. Mas a certa altura, aparece no salão entre os demais cortesãos de
Sir William vestido “à civil” e fora dos dois mundos. O “valet” George, em
retaliação, entorna-lhe o café nas calças, como por acidente.
O actor de Hollywood,
com a sua frívola experiência que o deixou malquisto em ambos os patamares,
acaba por se encontrar no papel de bárbaro que uma sociedade tão hierarquizada
como a inglesa de 1927 lhe destina.
Mas, para nós,
espectadores, o comportamento da personagem tem outro efeito: o de revelar um
outro teatro, em que a aristocracia representa, de facto, uma superioridade em
que já não acredita.
quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011
LEVIANDADE
“(…) ainda têm uma certa leviandade porque
examinam tudo
como se se destinasse a ‘uma paisagem interrompida
pelo frio.’”
“Autofagias” (Herberto Helder)
Conheci um homem que,
logo que se sentava à mesa, procedia a uma minuciosa verificação da toalha,
prato, copo e talheres. Podíamos chamar a isso um ritual securizante. Mas, no
fundo, também ele tinha a “leviandade” de que fala Herberto Helder. Pretendia
pôr-se ao abrigo dos incontáveis inimigos invisíveis que nos cercam a todo o
momento.
Queria dar uma ajuda
ao seu sistema imunitário, ou, simplesmente, não confiava nele, mas isso
ocupava de tal modo o seu espírito que desorientava todos os seus sensores
sociais. A “paisagem” tornava-se gelada.
Quando se perde a
confiança no próprio corpo (e isso acontece com a primeira doença grave), o “examinar
tudo” já não é uma leviandade, mas um modo de vida. É como viver com uma “prótese”.
quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011
O FATAL ABORRECIMENTO
“Mathilde
s’ennuyait en espoir. Le Marquis de Croisenois parvint à l’approcher, et lui
parlait, mais elle rêvait sans l’écouter. Le bruit de ses paroles se
confondait pour elle avec le bourdonnement du bal. Elle suivait de l’oeil
machinalement Julien, qui s’était éloigné d’un air fier et mécontent.”
“Le Rouge et le Noir”
(Stendhal)
Alain admirava esta
expressão: “s’énnuyer en espoir”. A jovem marquesa fazia-se acompanhar para
onde quer que fosse duma provisão de aborrecimento antecipado que lhe estragava
a vida. Era orgulhosa do seu sangue e do seu génio, e à sua volta só encontrava
cortesãos. É próprio duma corte aborrecer-se mortalmente, o que é pagar
demasiado caro os privilégios.
Mathilde de La Mole
decretara, pois, que nunca haveria nada de novo e que nunca poderia conhecer
alguém interessante. Há-de apaixonar-se, não pelo plebeu Julien Sorel e os seus
modos selvagens, mas pela ideia de amar tal personagem, com um romantismo por
que estava disposta a arriscar tudo.
O tipo de
aborrecimento de Mathilde é característico da velhice e não duma jovem de vinte
anos. A expectativa de aborrecer-se é natural naquela e está à medida do seu pequeno
futuro e do seu mundo que desaparece.
terça-feira, 22 de fevereiro de 2011
"ANEU LOGOU"
 |
| (http://www.life.com) |
“(…) Aristóteles apenas formulou a opinião corrente da polis acerca do homem e do modo de vida político, e de acordo com esta opinião, toda a gente fora da polis – escravos e bárbaros – era aneu logou, privada, naturalmente, não da faculdade da palavra, mas dum modo de vida em que a palavra e somente ela fazia sentido e onde a principal preocupação dos cidadãos era a de conversarem uns com os outros.”
“A Condição Humana” (Hannah Arendt)
Segundo Arendt, a acção e a palavra eram consideradas do mesmo nível e da mesma espécie e isto significava que “tanto quanto (a acção política) permanece fora da esfera da violência, é de facto transaccionada por palavras, mas mais fundamentalmente que encontrar as palavras certas no momento certo, independentemente da informação ou comunicação que possam veicular, é acção.” (ibidem)
Custa-nos, é verdade, transpor esta ideia para os modernos hemiciclos, depois da modificação neles operada pela organização partidária, porque se é verdade que o mais importante dos debates não pode ser considerado informação ou comunicação, parece que a eficácia do discurso é igualmente independente da coisa pública.
Que a palavra, entendida como praxis política, é incompatível com a tirania e o autoritarismo é ilustrado pelos recentes acontecimentos no mundo árabe. Logo que os telemóveis, a internet e as redes sociais abriram um novo espaço de palavra independente do espaço policiado, a acção política fez a sua aparição, com os resultados que estão à vista.
Mas algo se deve passar com as nossas democracias para, em quase ideais condições, a interacção plural não resultar em acção política, ou, então, será o caso do inter-jogo dos poderes ter, de facto, deixado de existir. A tese de Arendt não daria, assim, conta dos efeitos não políticos da interacção.
Seríamos demasiado ingénuos se esperássemos da revolta árabe um progresso político baseado na “interacção linguística e plural”.
Um sintoma de anomalia é o êxodo de tunisinos para a ilha de Lampedusa. Esses parecem não acreditar grandemente no futuro político do seu país…
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011
FALAR A SÉRIO
 |
| "Gargântua" (Rabelais) |
“O
reconhecimento da verdade é enfim expresso na forma de proposição afirmativa.
Não é para isso de modo nenhum necessária a palavra ‘verdadeiro’. Mesmo que a
empregássemos, a força propriamente afirmativa não reside nela, mas na forma da
proposição afirmativa; se a proposição perde a sua força afirmativa, a palavra ‘verdadeiro’
não lha pode devolver. É o que acontece quando não se fala a sério. Do mesmo
modo que o trovão de teatro é apenas um pseudo-trovão, que o combate de teatro
é apenas um pseudo-combate, do mesmo modo que a afirmação de teatro é apenas
uma pseudo-afirmação.”
“Écrits Logiques et Philosophiques” (Gottlob Frege)
Não poderíamos,
então, enunciar uma lei da Física, por exemplo, com um sorrido giocondesco,
como quem aponta para a máscara (‘larvatus prodeo’).
O sorriso seria, neste caso, como as aspas que colocamos numa qualquer
expressão. Não estamos aqui a citar outrem, mas a indicar que o sentido de tal
expressão não é a do seu ‘valor facial’.
A ideia de Frege
remete-nos para a questão da actualidade dos signos. Por exemplo. Um livro
fechado, que ninguém lê, não tem nenhuma relação com a verdade, nem se nele
estivessem contidas a melhor história do Império Romano ou a própria Teoria da
Relatividade. Assim, uma teoria que não estivesse “actualizada” por uma qualquer
forma viva (que não fosse pensada), seria como a verdade de teatro de que fala
Frege.
As Sorbonnes com que
gozava Rabelais representavam esse tipo de pseudo-saber. É um caso em que a “seriedade”
não é sinal de se estar a “falar a sério” (com verdade).
domingo, 20 de fevereiro de 2011
GARRA
Um segundo grau do
cinema está sempre presente nos filmes dos irmãos Cohen. As citações cinéfilas abundam,
desde “Cat Ballou”(1965-Elliot Silverstein)
a “Buffalo Bill and the Indians” (1976-Robert
Altman), “True Grit” é um remake
da obra homónima de Henry Hathaway (1969) e, apesar disso, estamos diante duma
obra original, se não de um estilo que deixa a sua marca dum filme para o
outro.
Uma das
características cohenianas é, naturalmente, a violência (nos piores exemplos quase
estética), outra é a qualidade gráfica dos ambientes. A violência, como “atributo
simbólico” (assim como a maça de Hércules) é essencial para a personagem de
Rooster (Jeff Bridges), com o seu contraponto irónico que não chega ao delírio
de Lee Marvin, em “Cat Ballou”. É uma violência que interrompe a narrativa (por
exemplo, na cena da cabana), como se nesse momento, o nosso estatuto de
espectadores ficasse em causa. Rooster dará, noutra altura, uma explicação a
Mattie (Hailee Steinfeld), a rapariga que o contratou para vingar o pai
assassinado, do que se passou quando defrontou sete sozinho: a fúria e a
rapidez do ataque fez com que cada um deixasse de se sentir acompanhado e em
vantagem numérica para pensar só em si próprio.
Os exteriores são
magnificamente filmados, valorizando sempre o contraste entre o homem e a
paisagem, e as elipses que dão conta da passagem do tempo, exímias. Mas fica-se
com a sensação, depois de tudo, de termos visto um exercício de virtuosismo que
vive sobretudo da figura interpretada por Jeff Bridges. Imagine-se, por um
momento, que tivesse havido aí um erro de “casting”: o filme não se salvava dum
“neo-academismo”.
sábado, 19 de fevereiro de 2011
IDOLATRIA
 |
| Clemente de Alexandria |
“Clemente
de Alexandria (c.150/215) acreditava que a ideia filosófica de um cosmos eterno
era idólatra, porque apresentava a natureza como um segundo deus co-eterno.”
(“The case for God” (Karen Armstrong)
O infinito e a
eternidade, para nós mortais, são incompreensíveis (em ambos os sentidos da
palavra) porque, como Kant demonstrou, nem sequer podemos dizer que o mundo
teve um começo e qual é o tamanho dele.
São palavras que fazem
parte do nosso mundo mas são ainda mais “contra-intuitivas” do que a ideia dos
triliões de dólares da dívida pública americana. Embora as possamos utilizar
todos os dias, podemos “concebê-las”, mas não, realmente, compreendê-las. São
como todos os “omni” atribuídos a Deus.
O infinito e a
eternidade aplicadas ao universo “resolvem” muitos dos problemas que nos
colocamos (por exemplo, o que é que havia antes do Big Bang ou de qualquer
outra teoria do começo de tudo), mas é da mesma maneira que a ideia de Deus põe
“uma pedra sobre o assunto”. E, como se sabe, tudo começa pela primeira pedra,
até as barragens.
Tinha toda a razão
Clemente de Alexandria. Todos nós somos crentes (na sua opinião, idólatras) em
relação ao que aparece com a beleza duma noite estrelada.
sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011
PARADOXOS DO VOTO
 |
| Slavoj Zizek e Alain Badiou |
Entre o que chama os
paradoxos do voto, Alain Badiou inclui este: “Que existe uma flagrante assimetria entre o ‘sim’ e o ‘não’. A
consequência dum ‘não’ é a eliminação, e é efectiva. Pelo contrário, o que se
joga num ‘sim’ não podia ser mais
ilusório. A que compromissos se sentem obrigados os membros eleitos? Nada de
importante, em todo o caso, o que é ainda mais verdadeiro hoje, quando a noção
de ‘programa’ se encontra praticamente desacreditada. Assim, para o votante, há
um efeito real para a sanção negativa, mas nenhuma previsível no caso de
sucesso, excepto o da conservação dos principais parâmetros da existência.”
“Philosophical considerations of the very singular
custom of voting”
Para não ser inviabilizado
pelas condições não previstas ( e o futuro, por natureza, é sobretudo feito
destas), um programa de governo não deve adiantar-se muito no tempo, nem ser
muito específico, sob pena de se tornar mais uma causa do descrédito da
política e dos políticos.
Claro que o que resta
é, de certa maneira, um “cheque em branco”, que não é facilmente “digerível”,
porquanto desvaloriza completamente a participação directa do eleitor nas
decisões políticas que, de facto, contam.
O povo eleitor, por
intuição, desconfia do valor dos compromissos feitos na base dum programa e
prefere escolher as pessoas no formato mediático, já que uma experiência de
pessoa a pessoa é impossível para a esmagadora maioria.
Quando Churchill
prometeu “sangue, suor e lágrimas”, todos tinham a ganhar se essa promessa não
fosse cumprida. Nos outros casos, as promessas são pouco mais do que as
mentiras úteis de que falava Platão.
É isto um paradoxo do
voto? Não mais do que o que se aloja na própria palavra democracia. A palavra
só é pertinente em comparação com as outras formas de governo. A democracia
distingue-se da tirania e da monarquia pela liberdade de que o povo parece,
relativamente, usufruir.
Mas quando o mesmo
Churchill diz que a democracia é só o menos maus dos regimes, não é por acaso
que se inibe de formular qualquer conteúdo positivo. É porque, realmente, se
trata duma comparação e nada de absoluto em si mesmo.
Enfim, a verdade é
que não se inventou ainda o processo de pôr milhões de tripulantes ao leme do
barco em que todos estamos.
quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011
BECO-SEM-SAÍDA
 |
| Atenas |
“O
remédio pré-metafísico que (os Gregos) encontraram para esta fragilidade (dos
assuntos humanos, ‘ta anthrõpina
pragmata’)
foi a invenção da polis, concebida como um lugar estável
onde fosse possível partilhar e registar (memorialize) feitos e palavras
publicamente. Dito de outro modo, a vida política, sob a forma especificamente
grega de isonomia, foi instituída com respeito a
um comum horizonte de aparências, dentro do qual o estar-juntos de praxis e lexis podiam ser mantidos em segurança
e florescer, estar-juntos dentro do qual se podia localizar a emergência de
sentido para além das necessidades da vida e para lá da utilidade.”
“The Thracian Maid and the Professional Thinker”
(Jacques Taminiaux)
Criar um mundo que
perdure, para além da morte individual, parece ser, de facto, uma necessidade básica
dos humanos e, em primeiro lugar, da função de pensar. Sem uma língua e sem uma
cultura, decerto, não poderíamos pensar e ambas transcendem o indivíduo e
exigem uma dimensão temporal que não é a do nosso quotidiano. Esse meio é tão
vital quanto as condições físicas do nosso habitat.
No caso da cidade
criada pelos Gregos só se pode falar dum “para”, duma finalidade consciente,
com alguma liberdade filosófica, porquanto ela não é uma criação individual,
nem um objecto “fabricado” para ter um fim consciente.
Se parece ter uma
lógica a posteriori, tal como na natureza darwiniana, não se
pode deve deduzir dessa lógica a inteligência dum criador, mas compreender como
é que a forma da polis
pôde adaptar-se e perdurar, ao contrário de outras experiências do “estar-juntos”.
A mesma ideia pode
aplicar-se ao mundo de hoje, e ao domínio do trabalho em particular, o qual,
cada vez mais, se aproxima da fórmula do viver sem amanhã.
Se pudéssemos estar à
frente dessa lógica por pouco que fosse, perceberíamos que entrámos numa
experiência que não pode vingar. Mas só nos museus de amanhã poderemos ver os
seus lamentáveis abortos.
Subscrever:
Comentários (Atom)